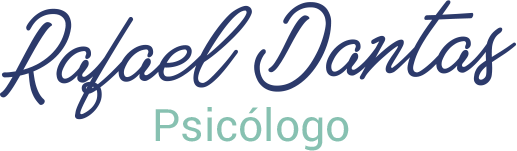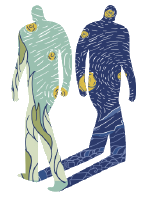A Teoria do Apego foi desenvolvida pelo psiquiatra infantil e psicanalista inglês, John Bowlby (1907-1990), tendo por base os campos das teorias psicológicas, evolutivas e comportamentais. Bowlby acreditava que os seres humanos nascem com uma inclinação para serem sensíveis às interações sociais e necessitam delas para um desenvolvimento saudável.
Assim, Bowlby concentrou seus estudos nas consequências do cuidado parental na vida da criança – durante seus primeiros anos de vida – e como a qualidade desse cuidado pode interferir nas relações vivenciadas pelo sujeito na vida adulta.
Figura e comportamento de apego
Inicialmente, apego pode ser compreendido como o conjunto de comportamentos do bebê que se caracteriza não somente pela busca de proximidade física do cuidador, mas também pela exploração do ambiente (Pontes et. al., 2007). Para Bowlby o apego consiste em uma ferramenta fundamental para a sobrevivência humana.
Substituindo o termo cuidador por figura de apego, podemos imaginar uma pessoa pela qual a criança constrói maior vínculo nos primeiros anos de vida e que se caracteriza por ser apta, disponível e responsável para exercer esse papel. Que seja, sobretudo, sensível e acolhedor, capaz de oferecer proteção e afeto. Essa figura pode ser representada por qualquer pessoa, mas geralmente é relacionada pelas figuras materna e paterna (Dalbem et. al., 2005)
É comum presenciarmos nos seres humanos, comportamentos ou padrões de comportamentos para se sentirem amados, aceitos ou respeitados. Esse fenômeno também foi estudado na Teoria do Apego, onde se chegou a conclusão de que as pessoas tendem a orientar suas atitudes para manter ou conquistar proximidade como outras pessoas, que julgam ser mais capazes em lidar com as questões da vida (Bowlby, 1989 apud Dalbem, 2005)
Apego Seguro X Apego Inseguro
Como forte pesquisadora na área, a psicóloga norte americana Mary Ainsworth foi a idealizadora do instrumento para investigação dos aspectos qualitativos do padrão de apego infantil, que ficou conhecido por “Situação do Estrangeiro”. Com base nos dados obtidos, classificou as crianças em seguramente apegadas e inseguramente apegadas (Pontes, 2007).
As primeiras, crianças seguramente apegadas, manifestam ações menos aversivas tanto na presença quanto na ausência do cuidador, por te-lo como figura disponível; já as inseguramente apegadas, no entanto, apresentam comportamentos mais aversivos tanto na presença quanto na ausência do cuidador – já que o tem por figura indisponível ou distante.
Ainsworth (1989), afirma que os padrões de comportamentos de apego são relevantes para delimitar o atributo do apego e podem ser representados tanto na forma acolhedora quanto na forma aversiva, pela criança ou por qualquer indivíduo, em diversas faixa etárias.
Modelos
Embasado nas pesquisas feitas pela equipe de Bowlby e Ainsworth (1989), foram delimitados quatro modelos de funcionamento (workings models). Esses modelos/padrões, são fundamentais para orientar nossos relacionamentos com um parceiro, em grupos de amigos e até com nosso próprio eu. Além disso, influenciam nossa opção (ou não) pela parentalidade e até mesmo nossa atuação profissional (Delbem, 2005). Dessa forma, os modelos descritos na Teoria do Apego são os seguintes: padrão seguro, padrão ansioso, padrão evitativo e padrão desorganizado
O Padrão seguro condiz com o relacionamento cuidador-criança vivenciado a partor de uma base segura, na qual a criança teve ampla possibilidade de explorar seu ambiente de forma entusiasmada e motivada. Além disso, quando estressadas por fatores do ambientais ou mesmo por necessidades próprias do período infântil, encontravam cuidado e proteção nas suas figuras de apego (Dalbem, 2005).
As pessoas que desenvolvem esse padrão de apego são afetadas, assim como todas as demais, por situações de mudança, separação ou perdas no decorrer da vida. Todavia, demonstram altos níveis de resiliência e autônomia, o que lhes possibilita atravessar tais momentos de maneira menos traumática.
O padrão inseguro ansioso (ambivalente) revela crianças com limitado comportamento exploratório, quando expostos a um ambiente. Essas crianças, frequentemente, demonstram aflição e choro ao serem brevemente separadas de suas figuras de cuidado. Ao reencontrá-las, exibem uma mistura de raiva e busca por proximidade – sendo particularmente difícil confortá-los ou acalmá-los (Pontes, 2007).
Pessoas com esse padrão podem demostrar comportamentos de apego e dependência excessiva em relação ao parceiro(a). Dessa forma, enfrentam uma redução nas opções de alegria e felicidade, comprometendo assim as possibilidades em outras áreas que também são importantes para seu crescimento pessoal (Riso, 2008 apud Rodrigues, 2010).
As crianças com padrão inseguro evitativo (esquivo) comportam-se de modo semelhante, tanto na presença do cuidador quanto na presença do estranho. Na separação, são indiferentes e no reencontro não buscam conforto. Inclusive, é comum que se coloquem em posição contrária ou na direção oposta das figuras de cuidado (Pontes, 2007).
Esse padrão pode apontar para adultos que, em seus relacionamentos, enfrentam dificuldade de responder as necessidades de seu parceiro(a). Se no padrão ansioso a dependência e a profunda doação ao outro são marcas fortes, no padrão evitativo o indivíduo presa por independência de forma excessiva, já que possui certa aversão à proximidade. Com isso, tal padrão pode ocasionar o enfraquecimento da relação, por colocar o parceiro em uma posição de “não importante”.
Já no padrão desorganizado (desorientado), as crianças podem exibir, durante a interação com seus cuidadores, um comportamento constante de impulsividade que envolve cisma durante a interação, expressa por brabeza, confusão facial, ou expressões de transe e perturbações.
Esses casos aparecem, frequentemente, em situações de abuso nas quais o cuidador simboliza uma fonte de medo e ameaça à criança. Logo, esse padrão é comumente associado a fatores de risco e a maus-tratos, podendo ser indicativo da ocorrência de determinados transtornos ou distúrbios nos cuidadores (Delbem, 2005).
Modelo são construídos e reconstruídos a todo tempo
“Então quer dizer que estou destinado a viver um relacionamento inseguro (esquivo ou ansioso) caso identifique que houve em minha história situações de apego inseguro? Como se uma força incontrolável me levasse a agir como tal?” – talvez você pense isso ao chegar até aqui, mas não é bem assim que a história termina.
A Teoria do Apego, como tantas outras desenvolvidas, não tem por objetivo limitar o ser humano a um só padrão de comportamento ou a uma só maneira de viver. Na verdade, ela busca investigar e compreender a maneira como nos vínculamos as pessoas, de forma a tornar possível nosso crescimento pessoal. Afinal, não é possível que se modifque, intencionamentel, algo que ainda não compreendemos.
Então, sobre a pergunta feita agora a pouco, a resposta é: a decisão é sua! Sim, embora muito de sua personalidade e de seus comportamentos tenham tido forte influência do modelo parental ao qual você foi exposto, ele não pode determinar, inteiramente, quem você escolhe ser.
Estabeleça um sincero diálogo interno que tenha como objetivo “compreender o que se esconde por trás de sua angústia”. Por exemplo: se sinto demasiado ciúmes do(a) meu/minha parceiro(a), devo me questionar se esse sentimento não está tentando revelar-me alguma ferida relacionada a um possível abandono infantil – que precisa ser cicatrizada. Ou então, se pareço sentir medo ou desconforto ao ser amado pelo(a) meu/minha parceiro(a), devo igualmente me questionar se tal sentimento não é fruto de necessidades infantis nunca atendidas.
Muitos são os fatores e as experiências que nos moldam ao longo da vida, capazes de orientar nossas escolhas numa direção e não em outra, fazendo com que nossas emoções e comportamentos, numa relação sentimental, sejam de um tipo dependente ou não (Rodrigues et. al., 2010). Felizmente, na vida adulta, podemos investigar e intervir em tais experiências. Para tanto, o auxílio profissional de um Psicólogo (a) pode ser de grande valia.
Referências
PONTES, Fernando A. R. SILVA, Simone S. C. GAROTTI, Marilice. MAGALHÃES, Celina M. C. Teoria do apego: elementos para uma concepção sistêmica da vinculação humana. Universidade Luterana do Brasil. Canoas, Brasil. Aletheia, n. 26, p. 67-79, 2007.
RODRIGUES, Soraia. CHALHUB, Anderson. Amor com dependência: um olhar sobre a teoria do apego. Centro Universitário Jorge Amado, Brasil. 2010.
DALBEM, Juliana Xavier; DALBOSCO, Débora Dell’Aglio. Teoria do apego: bases conceituais e desenvolvimento dos modelos internos de funcionamento. Arquivos Brasileiros de Psicologia, vol. 57, n. 1, p. 12-24, 2005. Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brasil. Disponível em: link.